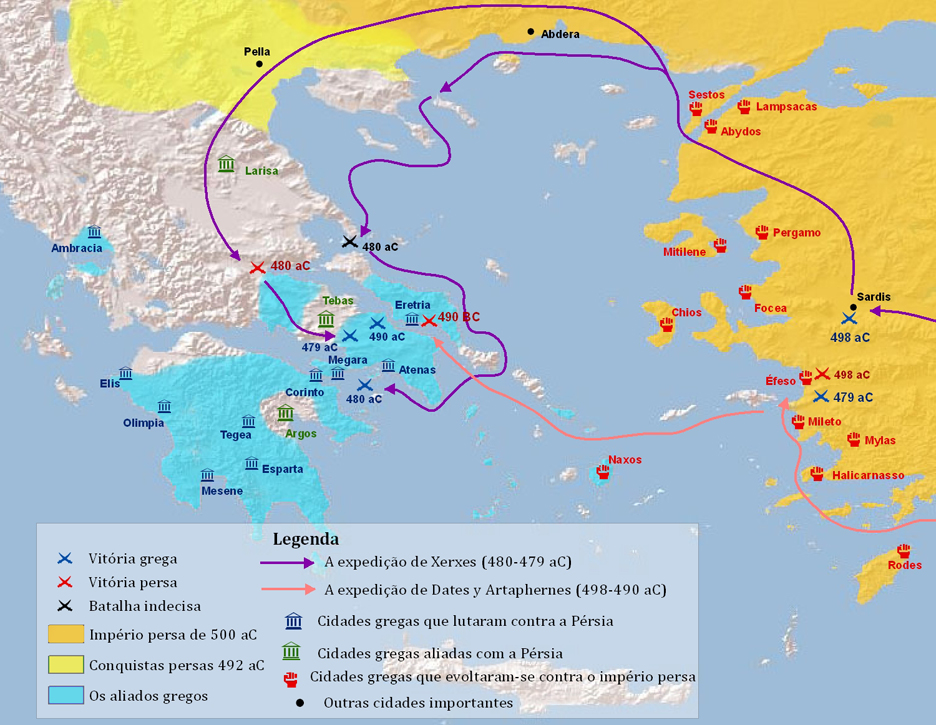A religião grega não tinha
dogmas, isto é, os fiéis não se obrigavam a crer em verdades definitivas; era
politeísta: havia grandes deuses, que habitavam o Olimpo, mais de 30 mil seres
imortais sobre a terra e os heróis, homens que praticaram ações extraordinárias
e se igualavam aos deuses. Cada cidade tinha sua divindade protetora, como
Palas Atenas, em Atenas. No culto aos deuses, os gregos pediam proteção para a
família, tribo ou cidade, não a salvação da alma. Cada um podia imaginar a vida
depois da morte como bem entendesse. As lendas que contam as aventuras dos
deuses e heróis são chamadas mitos; o conjunto dos mitos forma a mitologia.
Deuses e crenças de várias origens se misturaram por séculos. Os primeiros
invasores arianos, os aqueus, trouxeram Zeus; e encontraram a grande mãe
cretense. Os colonos da Ásia assimilaram deuses locais, como Dionísio. Outra
característica de religião grega era o antropomorfismo, isto é, os deuses
tinham formas, virtudes e defeitos humanos.
O
mito das origens dos deuses e homens
O céu, Urano, e a Terra,
Gaia, surgiram do nada. De sua união nasceram os Titãs, os Cíclopes e os
Gigantes. O Titã mais jovem, Cronos, destituiu o pai e, para que não fosse ele
próprio destituído, passou a devorar os filhos, os deuses. Sua esposa, Rea,
para salvar Zeus, o caçula, substituiu-o por uma pedra e escondeu-o numa
caverna. Quando cresceu, Zeus obrigou o pai a devolver os filhos comidos. Com
ajuda deles, encarcerou Cronos no inferno. A seguir, guerreou contra os
Gigantes: a gigantomaquia. Prometeu, filho de um Titã, criou os homens e
deu-lhes o fogo, que roubou de Zeus. Zeus o acorrentou no alto do Cáucaso, onde
um abutre lhe devorara todos os dias o fígado, que renascia de noite. Hércules
libertou-o do suplício, matando o abutre . A
primeira mulher, Pandora, não resistiu à curiosidade e abriu a caixa de todos
os males. Para castigar os homens, Zeus mandou o dilúvio. Deucalião, filho de
Prometeu, e sua mulher Pirra salvaram-se e recriaram a humanidade. Desse modo,
deuses e homens eram, em essência, muito semelhantes.
A mitologia dos deuses
heróis
Os grandes deuses habitavam
o Monte Olimpo, exeto Poseidon (deus dos mares) e Hades (dos infernos). No
Olimpo eles se alimentavam de uma planta de sabor delicado, a ambrosia, manjar
dos deuses. Os mais antigos eram filhos de Cronos; além de Hades e Poseidon,
Héstia (deusa do lar); Hera (mulher de Zeus); Deméter (deusa da Terra); e Zeus
(senhor dos deuses e defensor da justiça). Os mais novos eram filhos de Zeus:
Ares (deus da guerra); Afrodite (deusa do amor); Apolo (adivinhação, luz,
artes); Artemis (a Lua); Hefaístos (fogo); Atena (razão e paz); Hermes
(comunicações). Dionísio (protetor da vindima) foi o último a entrar no Olimpo.
Os heróis mais conhecidos eram: Perseu - matou Górgone, monstro de dentes
afiados e cabeça cheia de serpentes; Jasão - com seus companheiros argonautas
conquistou o Tosão de Ouro, pele de carneiro voadora, guardada por um dragão;
Teseu - matou o Minotauro, mostro que habitava o labirinto de Creta. Édipo
matou a esfinge, devoradora de viajantes que não respondessem a suas
enigmáticas perguntas; e Hercules - o maior de todos os heróis, realizou doze
trabalhos para escapar à fúria de Hera (mulher de Zeus).
O culto, os santuários e os
grandes jogos
O culto se realizava no
jazigo da família, no túmulo dos heróis ou no templo. Consistia em orações,
sacrifícios e libações, isto é, derramamento de óleo, azeite, leite, vinho,
como oferenda à divindade. O pai exercia funções de sacerdote e mantinha sempre
aceso o fogo sagrado. Toda a família participava das cerimônias que
acompanhavam nascimento, casamento e funerais. Anualmente, em todas as cidades,
havia homenagem aos mortos. Todas tinham sua grande festa religiosa. Em Atenas celebrava-se
Dionísio, apreciado por camponeses. Já as Grandes Dionisíacas eram celebrações
urbanas, com concursos de autores dramáticos, que deram origem às grandes obras
do teatro grego. As Grandes Panatenéias, em honra de Atena, celebravam-se de 4
em 4 anos, com concursos de música e canto, corridas de cavalo e outras
competições; fechavam com uma procissão que oferecia à deusa um santo luxuoso.
Era a festa mais importante
de Atenas. Havia uma certa unidade religiosa. Multidões de toda a Grécia
peregrinavam até os santuários mais famosos como Epidauro, Delos, Olímpia e
Delfos. Para saber o futuro, os gregos consultavam os deuses nos oráculos
(oráculo significa a respostá à consulta, o deus que respondia ou o local onde
ele atendia). Em Delfos, Apolo falava pela boca da Pitonisa, sacerdotisa que
entrava em transe depois de aspirar odores emanados das rochas. Peregrinos
vinham até o Egito ouvir suas palavras sem nexo, que os sacerdotes
interpretavam. Os grandes jogos homenageavam os deuses dos santuários. Havia
quatro jogos pan-helênicos, ou seja, abrangiam todo o mundo helênico: istmicos,
neméios, píticos e olímpicos. Os mais famosos eram os Jogos Olímpicos,
realizados em Olímpia, em homenagem a Zeus. Depois de 776 a.C passaram a
realizar-se de quatro em quatro anos. Durante os jogos, era sacrilégio atacar
os peregrinos; os atletas juravam lealdade e disputavam seis provas: corrida,
luta livre, pugilismo, corrida de carros, lançamento de dardo e de disco. Os
vencedores recebiam uma coroa de louros e eram cantados pelos poetas, como
Simônides e Píndaro.
Mistérios, trajédias e
comédias
A preocupação com a vida
após a morte explica a difusão do orfismo e dos mistérios. Orfismo vem de
Orfeu, poeta que atraia até animais selvagens, segundo a lenda. Ele ensinava
que a alma, liberta do corpo com a morte, atingiria a suprema felicidade depois
de purificar-se através de reencarnações sucessivas. Os mistérios eram
cerimônias que permitiam entrar em contato com a divindade e conseguir a
felicidade eterna. Todos deviam guardar segredo sobre a iniciação recebida.
Deméter e sua filha Coré (ou Perséfone) eram grandes divindades dos mistérios.
Culturalmente, nenhuma cidade grega superou Atenas. Lá viveram alguns dos
maiores pensadores e artistas que a humanidade conheceu. Uma atividade
importante era o teatro. No concurso que se realizava durante o culto a
Dionísio, cada participante inscrevia três peças (trilogia). Elas eram
encenadas por atores masculinos, que usavam máscaras e também representavam
personagens femininos. Dentre os grandes poetas trágicos destacam-se: Ésquilo
(525-465 a.C) - Exaltou Atenas e os deuses justiceiros.
Deixou Os Persas (onde canta
o orgulho insensato e a punição de Xerxes); Os Sete Contra Tebas (narra o
destino infeliz de Édipo); e Oréstia (narra a sorte da família Agamenon).
Sófocles (496-405 a.C) - Suas obras mostram os heróis lutando contra armadilhas
do destino. Em Antígona, a heroína põe o irmão numa sepultura proibida pelas
leis urbanas; Édipo Rei mostra os velhos heróis encontrando a paz e a morte num
bosque sagrado. Eurípedes (485-406 a.C) - Menos religioso que os anteriores,
crítico e pessimista. Em Alceste e Medéia, mostra sua preocupação com os
problemas do homem, suas grandezas, mistérios e paixões. Os atenienses também
apreciavam as comédias, ricas em sátiras e alusões aos problemas do momento. O
grande autor do gênero foi Aristófanes, amigo da vida simples e defensor da
tradição. Em A Paz, atacou os partidários da guerra; em As Vespas, os erros dos
juízes; em Os Novos, as inovações bruscas.
Filósofos, poetas e
historiadores
A filosofia grega divide-se
em antes e depois de Sócrates. Foram pré-socráticos Tales de Mileto (fim do
século VII-início do VI a.C); Pitágoras (582-497 a.C); Demócrito (460-370 a.C);
Heráclito (535-475 a.C); e Parmênides (540 a.C). No tempo de Sócrates
predominava a escola dos sofistas, que serviam da reflexão para atingir fins
imediatos, ainda que por falsos argumentos. O maior dos sofistas foi
Protágoras. Sócrates (470-399 a.C) - Fundou a Filosofia Humanista. Criou a
maiêutica (“parto das idéias”), método de reflexão que consistia em multiplicar
as perguntas para obter, a partir da indução de casos particulares, um conceito
geral do objeto. Para Sócrates a virtude era uma ciência que se podia aprender.
Uma voz anterior, daimon,
indicaria o caminho do bem. Irônico, hábil em confundir o interlocutor, cercado
de discípulos extravagantes, como Alcebíades, atraiu muitos inimigos. Acusado
de renegar os deuses e corromper a juventude, Sócrates foi condenado a beber
cicuta, o que fez com bravura e serenidade. Platão (427-347 a.C) - Principal
discípulo de Sócrates, fundou a Academia de Atenas. Segundo sua teoria, baseada
nas idéias (formas essenciais), o mundo real transcende o mundo das aparências,
o qual nada mais é do que uma derivação das idéias matrizes. Em suas obras
políticas, destaca como virtudes essenciais a bravura, a serenidade e a
justiça. Obras importantes: Apologia de Sócrates, Críton, O Banquete, Fédon,
Fedro e A República. Aristóteles (384-322 a.C) - Considerado por muitos como o
maior filósofo de todos os tempos. Abarcou todos os conhecimentos de seu tempo
- Lógica, Física, Metafísica, Moral, Política, Retórica e Poética. Sua obra foi
editada pela primeira vez no século I a.C por Nadrônico de Rodes. Partindo de
Sócrates e Platão, Aristóteles sistematizou os princípios da Lógica, formando
uma ciência que ele chamou de Analítica. Sua metafísica estuda o “ser enquanto
ser” e investiga os “primeiros princípios” e as causas “primeiras do ser”.
Em sua Teologia, Aristóteles
procura demonstrar racionalmente a existência de Deus, o “primeiro motor
imóvel”, o “não vir a ser”, o “ato puro”. Na poesia, destacou-se Píndaro
(518-448 a.C), que, em odes triunfais, exaltava os vencedores dos jogos
pan-helênicos. Na história, são figuras importantes: Heródoto de Halicarnasso
(484-425 a.C) - O pai da História, como o chamou o orador romano Cícero,
relatou as guerras pérsicas. Tinha concepção religiosa, pois em seu tempo os
fatos eram vistos como resultado da vontade dos deuses. Mas se preocupava em
conhecer os povos cujas histórias contava: visitou. Tucídides (460-396 a.C) -
Escreveu a História da Guerra do Peloponeso. Considerava que causas políticas
determinavam os fatos históricos. Por isso, é tido como o criador da História
Objetiva, que ele apresentava como modelo para a vida prática. deixou obra rica
em reflexões. Xenofonte (430-354 a.C) - Escreveu Anabase, sobre a campanha de
Ciro, o Jovem, e a retirada de 10 mil mercenários que o haviam seguido à Pérsia
numa aventura política.
Arte, harmonia e
simplicidade
A arte grega era religiosa.
Os principais monumentos eram templos, e as esculturas, em sua maioria,
representavam deuses. Suas marcas eram a harmonia, a simplicidade, o equilíbrio
e uma decoração perfeitamente adequada ao conjunto. os trabalhos produzidos em
ateliês, tinham caráter coletivo. O século de Péricles (V a.C) assinala o
apogeu, com os monumentos da Acrópole e as obras-primas de Fídias; com a
cerâmica e seus vasos, cobertos de cenas expressivas; com o domínio da técnica
de esculpir e de executar a planta dos templos.
Os gregos construíram os
templos com blocos de pedra talhada, de tal modo ajustados que dispensavam
argamassa. Tinham três partes: vestíbulo (sala do deus nau) e tesouro. As
colunas se apresentavam em estilo dórico, o mais simples; jônico, mais
gracioso; e o coríntio, com capitel (parte superior) ornamentado em forma de
folhas. Os gregos se esmeraram na Acrópole, um de seus monumentos mais belos.
Péricles e Fídias reconstruíram os templos, que os persas haviam arrasado. No
Partenon, Fídias esculpiu em márfim e ouro a Atena Promachos (combatente) e pôs
no escudo duas figuras humanas: ele próprio e seu amigo Péricles. Foi
processado por impiedade. Fídias ainda construiu Erectéion, templo que guardava
antiga estátua de madeira de Atena, com pórtico das Cariátides, estátuas de mulheres,
sustentando o teto.
Outro escultor do século V
a.C foi Miron, autor do Discóbolo (lançador de disco), mestre do movimento.
Também se destacaram: Policleto de Argos, que procurou dar as proporções ideais
do corpo humano ao seu Doríforo (portador de lanças); e Praxíteles, escultor da
estátua de Hermes. A partir do século III a.C, todo o Planalto Persa constituiu
o Reino dos Partas; e aos selêucidas restaram apenas a Síria e a Mesopotâmia.
Entre 197 a.C e 31 a.C, os reinos helenísticos foram conquistados pelos
romanos, verdadeiros herdeiros do Império de Alexandre Magno.
A civilização Helenística
A civilização helenística
resultou da fusão da cultura helênica (grega) com a cultura do Oriente Médio,
principalmente persa e egípcia. Seu centro deslocou-se da Grécia e do Egeu para
o Oriente Médio, para os novos pólos irradiadores de cultura: Alexandria,
Antioquia, Pérgamo. Na Grécia, Esparta agonizava e Atenas decaía. Alexandria
ganhava fama no Ocidente e no Oriente, com a população numerosa, indústria artesanal,
museus, a biblioteca com 400 mil obras.
A vida intelectual era
intensa: Matemática, Geometria e Medicina se desenvolveram. O pensamento
filosófico dividia-se em duas correntes: estoicismo, que acentuava a firmeza de
espírito, indiferença à dor e submissão à ordem natural das coisas; e
epicurismo, que aconselhava a busca do prazer. Na literatura, destacou-se o
cantor da natureza e da simplicidade da vida no campo, o poeta Teócrito. A
arquitetura projetou templos grandiosos. Surgiram novos deuses, não-gregos,
como Ísis e Serápis; e ganharam força os mais jovens, como Afrodite, Apolo e o
pequeno Eros, deus do amor (cupido). Os artistas retratavam a natureza viva, o
movimento dos corpos, a transparência das vestes.
O legado cultural da Grécia